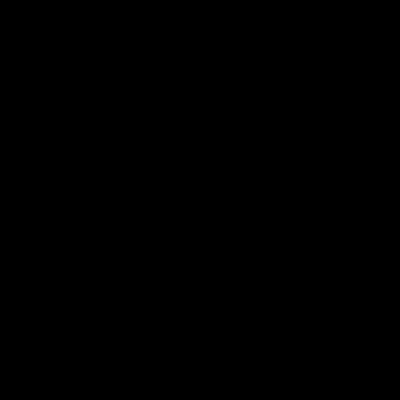…Não foi bem por um dia, porque foi das dez da manhã até as cinco da tarde. Eu explico. Pertenço ao Grupo de Amigos do Museu de Portimão e voluntariei-me para ajudar na recriação de “Um Dia na Pré-História”, uma organização do Museu de Portimão que decorreu no sábado, dia 3 de Maio, nos Monumentos Megalíticos de Alcalar.
O meu papel foi vestir a pele de um arqueólogo e explicar aos miúdos o seu trabalho. E isso consistia em esconder, numas caixas de areia, alguns pedaços de cerâmica, supostamente muito antigos, pôr as crianças a tentar descobri-los, primeiro com uma pazinha, depois com um pincel, através de uma grelha (tipo batalha naval), passar a sua localização para o papel, descobrir qual seria o objeto e de que material é feito, reconstruir os cacos e desenhar o resultado final.
Desde já peço desculpa aos verdadeiros arqueólogos e especialistas na área por, eventualmente, descrever mal procedimentos técnicos ou utilizar termos menos corretos. Afinal, apenas estava a fingir que era um arqueólogo…
Vasculhei os armários de casa e encontrei uma roupa supostamente adequada para um arqueólogo. Calças, camisa e casaco tipo caqui e, essencial e que fez toda a diferença, um chapéu à Indiana Jones. O dia prometia chuva e, mal chegamos, desatou a chover. De vez em quando, caia um esgarrão (aguaceiro, em algarvio), o que atrapalhava toda a logística.
(Aqui um parênteses para dizer que também estava a ser feita uma atividade de pintura/gravura pelo Grupo, e a tinta dá-se mal com a água).
Passando estes pormenores – e convém recordar que na pré-história também chovia – lá fui recebendo os curiosos que queriam experimentar a arqueologia. E diverti-me imenso. Para já, explicando aos miúdos o que era um arqueólogo, dizia que eles tinham que ver os filmes do Indiana Jones e não estranhassem quando me vissem lá (eh, eh, eh), enquanto os pais me olhavam com um sorriso benevolente.
Embora explicasse que, para ser arqueólogo, eram necessárias três condições (paciência, mais paciência e ainda mais paciência) tive de tudo: miúdos que faziam prospeções com a pazinha com muito cuidado, até aos que faziam tudo à bruta. Houve um que me confessou logo que, se era preciso ser paciente, nunca iria ser arqueólogo.
Enquanto eu explicava que tinham que ter cuidado para não estragar as (supostas) peças pré-históricas usando o pincel, outros tentavam logo levantar os artefactos.
Depois de descobertas as peças e colocada a grelha lá passávamos ao preenchimento da ficha da descoberta. Dependendo da idade e do jeito, alguns desenhavam bastante bem, outros nem por isso, mas, no fim, todos levaram a ficha com o seu nome como arqueólogo e a descrição da descoberta.

Atendi bastantes estrangeiros mas, curiosamente ou talvez não, todas as crianças falavam português. Algumas disseram que os arqueólogos eram pessoas que queriam encontrar tesouros e eu lá explicava que o tesouro tanto podia ser um osso ou um prato de barro… ou até podiam não encontrar nada.
Fiquei bastante impressionado com um miúdo de uns oito/dez anos, extremamente educado, que quando lhe disse para colocar o seu nome na ficha, pediu desculpa, consultou o telemóvel da mãe e escreveu um nome, para mim, ilegível. Falando com os pais, eles disseram-me que o filho era fascinado pela cultura japonesa, tinha criado um nome japonês e que, quando fosse mais velho, queria ir para o Japão trabalhar para a Nitendo. Despediu-se de mim com uma vénia, a que eu correspondi, acrescentando o meu melhor “arigatou”. Nós, algarvios, desenrascamo-nos sempre nas várias línguas.
Outro dos miúdos já tinha participado nos trabalhos arqueológicos do castelo do Alferce, outros tentaram fazer a atividade várias vezes (não sei se alguns conseguiram porque, passados umas horas, já não distingo os “clientes”).
Embora na sua maioria os participantes fossem crianças, para minha surpresa também apareceram alguns adultos com espírito mais livre, que deixaram vir ao de cima a sua curiosidade. E levaram a coisa a sério, até porque uma das senhoras me disse que tinha como vizinho um verdadeiro arqueólogo que, lembrava-se ela, desde pequeno fazia buracos no quintal. Aconselhei logo uma das crianças, bem novinha, a fazer o mesmo em casa, mas a mãe lá foi sorrindo a dizer-lhe que era uma coisa que ela não podia fazer no apartamento.
Pelo meio, houve pais que me chamaram doutor e perguntaram se eu era mesmo arqueólogo, o que eu respondia, evidentemente, que sim, que era arqueólogo… mas só neste dia.
E também perguntaram se eu é que era o Rui Parreira (uma referência na arqueologia do Algarve). Disse que não, mas mesmo assim houve quem me fizesse perguntas sobre a carreira na profissão e o mercado de trabalho. Creio que as minhas respostas não comprometeram ninguém.
Na parte da tarde, quando o tempo esteve menos carregado, cheguei a ter bicha para a atividade e até uma ligeira discussão sobre quem estava primeiro. Tudo se resolveu amigavelmente porque, como tinha duas caixas para a atividade, consegui orientar ambas as crianças ao mesmo tempo.
Entretanto, iam-se passando outras coisas interessantes que eu não tive tempo de ver. Enquanto fui, rapidamente comer qualquer coisa, passei por pré-históricos a fazer pão, a preparar as carnes com facas feitas de pedra, feiticeiros a enterrar supostos mortos, caçadores de arco e flecha, famílias a mover uma pedra com (mais ou menos) uma tonelada, enfim, um divertimento para todos, mas que acabava por ter sempre um intuito pedagógico.
E uma palavra de apreço ao pessoal do Museu, que participou ativamente em toda a recriação – e a todos os que tiveram todo um enorme trabalho de bastidores que permitiu que ela acontecesse.
Às cinco da tarde, desata a chover desalmadamente (atenção aos leitores: de uma vez por todas, chuva não é sinónimo de mau tempo) e tivemos que encerrar o divertimento. Divertimento, porque eu não sei quem se divertiu mais, se fui eu, se foram as crianças ou os pais.
Para o ano (espero) há mais!
Veja aqui a fotogaleria da edição deste ano do Dia na Pré-História
Obrigado por fazer parte desta missão!